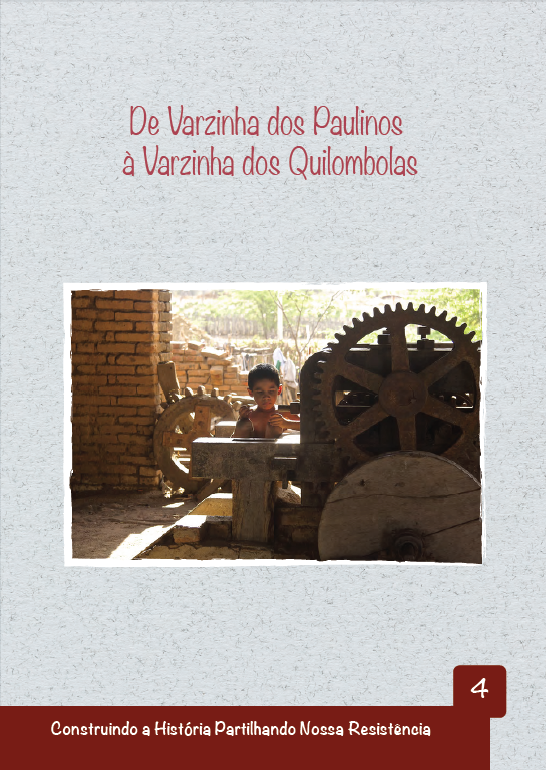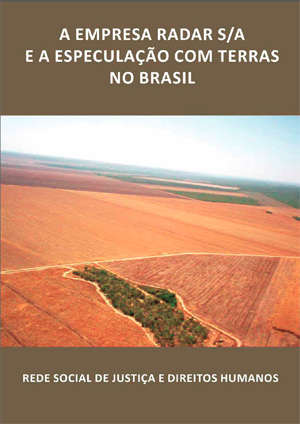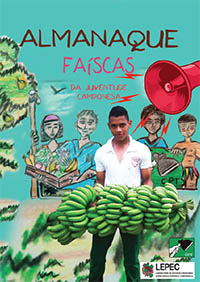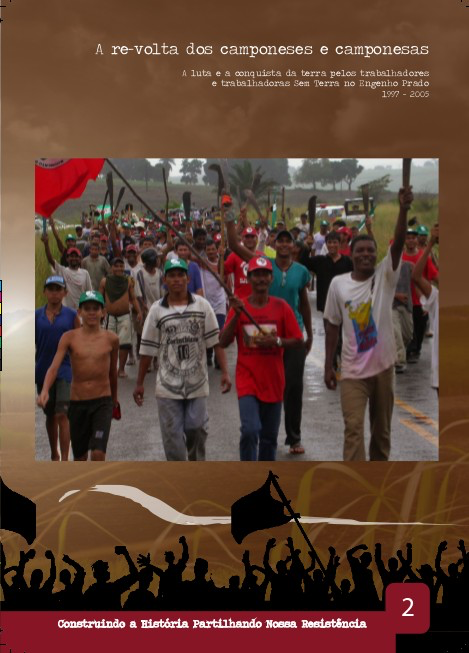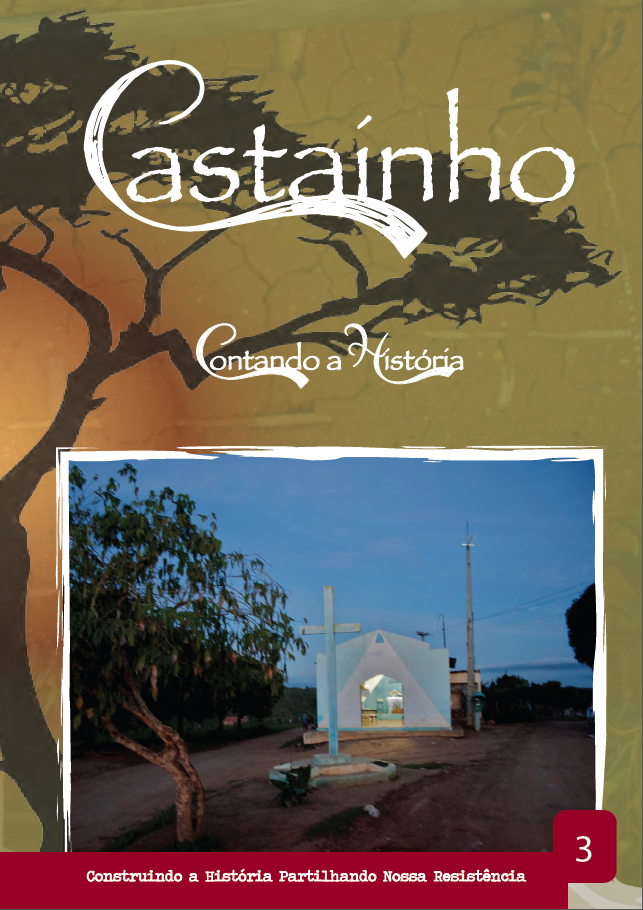Essa é uma série de três textos sobre o projeto do governo federal de instalar centrais nucleares no sertão do Nordeste, em uma região-território de vários povos indígenas e comunidades quilombolas. O projeto do governo federal prevê seis reatores nucleares a serem construídos nas margens do São Francisco. Os povos estão atentos à ameaça do sertão nuclear e vão construindo suas redes de resistência para parar um projeto que pode violentar parte sensível do bioma caatinga e todos os seus seres.
Euclides da Cunha, militar e engenheiro nascido no Rio de Janeiro, é enviado ao sertão baiano pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a guerra contra um arraial de fanáticos, que não respeitavam as autoridades oficiais do Estado. Esse arraial era a comunidade de Belo Monte, que ficou mais conhecida como Canudos. Euclides da Cunha chega em Canudos na metade de setembro de 1897, no fim da guerra, com a comunidade já praticamente destruída pela violência do Estado. Vai embora vinte dias depois, antes da guerra acabar. Chega tarde e vai cedo, passa menos de um mês no sertão. Com suas impressões publicou, cinco anos depois, “Os sertões”, que ele chamou de um livro-denúncia e lhe rendeu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O sertão – no imaginário nacional – passou a ser tudo aquilo que Euclides dizia.
Inicialmente a favor da guerra, Euclides da Cunha muda a sua avaliação vendo os horrores do campo de batalha. Afirma que o massacre contra Canudos é um dos maiores crimes da história. Ao mesmo tempo, constrói uma imagem do sertão superficial e preconceituosa, como um lugar fatalmente condenado pelo clima, de gente primitiva, de vida quase inviável. A figura de Antônio Conselheiro é desenhada como uma pessoa sombria, ignorante e com perturbações mentais e os conselheiristas como uma massa de fanáticos alienados sem nenhum domínio psicológico sobre suas vidas e inimigos do progresso. Se de um lado a obra literária tem o mérito de não deixar que o massacre contra Canudos fosse ocultado na história, de outro a sua tese é um desastre político, recheada de racismos e tem servido para enjaular em uma narrativa colonial a história do sertão.
Os sertões é uma ficção, uma ficção que Euclides nunca assumiu ser e que se propagou como não sendo, como se um documento político fosse. Para entendermos o que se diz hoje sobre o sertão é só lembrar que um militar e engenheiro do Sudeste, profundamente influenciado por ideias iluministas, que passou no sertão menos de um mês durante uma guerra, é um dos principais responsáveis pela narrativa mais aceita sobre essa parte do mundo.
Quatro séculos antes…
…esse território que veio a ser chamado de Brasil é escolhido pela geopolítica mundial para ser um fornecedor de natureza. O sertão entra no jogo como colônia da colônia, é ocupado por uma necessidade da região canavieira de arrumar lugar para a criação de bois, essenciais a existência dos engenhos. Inicia a morte da caatinga, o genocídio indígena, a privatização das terras e também das águas. Muita resistência, muita guerra. Nesse momento o sertão é ferrado com as marcas coloniais que influenciaram – e em muitos casos determinariam – tua existência até hoje. A pecuária invade o sertão, no interior ela se estabelece e abastece a Zona da Mata, do Maranhão até a Bahia.
As fazendas se multiplicam como peste, irradiando da Bahia para norte e noroeste seguindo o caminho do Rio São Francisco. De Pernambuco, também para norte e noroeste, e pelo litoral, adentrando o interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Durante sete décadas uma série de guerras seriam um marco histórico da oposição dos povos originários à invasão colonial. Era a “Guerra dos Bárbaros” ou “Confederação dos Tapuias”. Diversas nações indígenas, muitas vezes articuladas entre si, promoveram no sertão uma das mais longas guerras de resistência anticolonial da história da América Latina.
Hoje…
….o sertão é tido como um lugar que sangra sem cessar sob a navalha inclemente da seca. A estiagem – um fenômeno natural que acontece em vários lugares do mundo – é usada para mascarar a fome voraz de terra, de água e gente do capitalismo-colonialismo-modernidade. Foi fundamental ao processo de encobrimento do sertão a construção de uma narrativa em que o identifica como um lugar sem água, de sofrimento quase ontológico. Digo: à natureza não deve ser dado o peso da culpa. Atentem: o sertão não pode ser explicado pela suposta ausência de água que impossibilitaria a reprodução de vida, mas ao contrário, pela sua presença, ou melhor, ou pior, pela disputa em torno da água, por sua privatização. O monopólio da água, somado ao monopólio da terra e às demandas político-econômicas externas moldaram esse território.
O problema no sertão não é a seca, mas as cercas, como disse um camponês em uma afirmação que ficou famosa. O cercamento da água, da terra e a implantação de um modelo de sociedade insuportável para a natureza desse lugar tem sacrificado todos os tipos de vida e enriquecido os grupos de sempre. A seca não é um fenômeno climático, mas um evento político catastrófico – é uma invenção. Mas não invenção no sentido de algo que não existe, de uma falsa verdade, mas seca como algo que não existia e passou a existir, que foi criado, fabricado, inventado. Estruturas sociais profundamente injustas, moldadas por um processo absurdamente violento, justificadas por uma ideia de modernidade e superioridade, permitiram transformar um evento natural e completamente adaptável que é a estiagem em uma catástrofe que é a seca.
Não existe seca para os ricos. O projeto colonial-capitalista-moderno inventou as cercas que inventou a seca que é a fábrica da dor no sertão. Com a privatização da água pelos latifundiários é restringida a autonomia camponesa e gerada mão de obra barata. A cada nova estiagem o Estado envia dinheiro e obras para os donos do poder locais e a estiagem – transformada no evento político seca – passa a ser um fenômeno desejado pela elites que vêem nela – e no sofrimento do povo – o caminho de consolidação de poder.
Muita coisa muda pra permanecer igual…
Esse fenômeno – batizado de indústria da seca – tem seus produtos regularmente atualizados. A transposição do Rio São Francisco, por exemplo, foi um novo modelo. Porém, a mais nova versão da indústria da seca já está sendo anunciada no mercado mundial, é a Central Nuclear do Nordeste. Um mega projeto de seis reatores nucleares para serem construídos às margens do Rio São Francisco. O lugar exato é a cidade de Itacuruba, em Pernambuco. Na verdade a Nova Itacuruba, porque a antiga foi inundada para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica. Além de centenas de pescadores e camponeses, lá convivem três comunidades quilombolas: Negros de Gilú, Ingazeira e Poço dos Cavalos; e três povos indígenas: Pankará Serrote dos Campos, Tuxá Campos e Tuxá Pajeú.
É aberta a possibilidade de mais um capítulo do genocídio colonial. Além do perigo de um acidente nuclear, que pode dizimar grande parte da população do Nordeste em um só dia, existe a ameaça de uma nova expulsos dos povos que convivem com o território objeto das mãos sempre manchadas de sangue do Estado.
A indústria da seca é versátil. Como um instrumento do capitalismo e uma das principais armas coloniais em seu genocídio cotidiano, ela adapta-se a cada movimentação do mercado ao mesmo tempo que contribuiu para o bem andar dessas adaptações e para as possivelmente necessárias novas adaptações. Ela é, ao mesmo tempo, produto e matéria-prima do capitalismo no sertão.
Para que um dia o mundo saiba…
O sertão do Nordeste é o semiárido mais chuvoso e com a maior quantidade de água armazenada do planeta. Tem debaixo dos pés vários aquíferos de água doce e sobre seu corpo caminham e se encontram numerosos rios. Esse tempo que escrevo é de inverno e chove muito, o verde da caatinga domina meus olhos. O milho crioulo aqui da roça já resistiu à lagarta e aponta que esse ano teremos fartura. A espera não é pela água – que sempre esteve aqui – mas pelo arrombar de todas as cercas.
Continua…
Texto por João do Vale da Comissão Pastoral da Terra | Arte por 1Dinelli